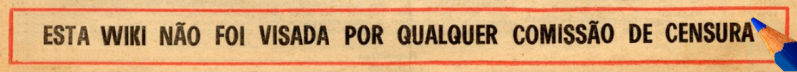Borges, Jorge Luís - Livros Proibidos
Jorge Luis Borges
FICHA TÉCNICA
Título original: Historia universal de la infamia (1935)
Páginas: 96
Formato: 14.00 X 21.00 cm
Peso: 0.159 kg
Acabamento: Livro brochura
Lançamento: 10/04/2012
ISBN: 978-85-3592-072-7
Selo: Companhia das Letras
Ilustração:
SOBRE O LIVRO
Divertido e inteligente, este volume da Biblioteca Borges traz contos do começo da década de 1930 em que o autor de O Aleph coloca-se no lugar do leitor, criando releituras de obras alheias.
Antes de tudo, este é um livro divertido e inteligentíssimo, guardando surpresas para o leitor a cada frase. Sendo um exercício de aprendizagem para o autor, que se iniciava na arte da narrativa curta no começo da década de 1930, é ao mesmo tempo um texto de livre experimentação, uma vez que nele Borges se permite ousadias de invenção sobre histórias alheias e próprias, em larga medida inspirado pelas releituras de Stevenson, pela prosa de Marcel Schwob, pelos filmes iniciais de Josef von Sternberg, além da pintura, estimulado, quem sabe, por sua amizade com os pintores Xul Solar e Pedro Figari.
Embora as histórias que compõem o volume tenham sido tiradas, em grande parte, de livros de outros autores, o trabalho abissal de reescrita é a novidade, complexa e de grande força expressiva, pois depende da criação incomum de pormenores circunstanciais de longo alcance que, por meio de sua concretude e particularidade, ampliam e adensam os significados dos argumentos que aproveita, imprimindo-lhes um sentido inesperado. São obra de um leitor mais tenebroso e singular que os bons autores, como se anuncia num de seus dois prólogos notáveis.
Essa arte de deturpar textos alheios em biografias imaginárias decalcadas pelo estilete da cortante ironia prepara o terreno para o voo solo de um narrador tímido num conto desconcertante: "Homem da esquina rosada". Já pela forma do título, ele evoca quadros de uma exposição, no caso, uma galeria de valentões suburbanos de uma vasta mitologia portenha: eles arriscam a pele na rivalidade dos punhais até o momento de uma revelação simbólica, mediante uma prosa singularmente mesclada da mais atrevida oralidade popular com a linguagem culta.
Como Mário de Andrade ou, mais tarde, Guimarães Rosa, Borges descobre as veredas para transformar a matéria local argentina em símbolo universal.
Os contos de "História Universal da Infâmia" refletem a habilidade distintiva de Borges em fundir elementos filosóficos e literários de maneira única.
https://www.companhiadasletras.com.br/livro/9788535920727/historia-universal-da-infamia-1935
História Universal da Infâmia, Jorge Luís Borges
Em 1517, o padre Bartolomé de las Casas teve muita pena dos índios que se extenuavam nos laboriosos infernos das minas de ouro das Antilhas e propôs ao imperador Carlos V a importação de negros, que se extenuavam nos laboriosos infernos das minas de ouro das Antilhas. A essa curiosa variação de um filantropo devemos factos infinitos: os blues de Handy, o êxito alcançado em Paris pelo pintor doutor oriental D. Pedro Figari, a boa prosa bravia do também oriental D. Vicente Rossi, o tamanho mitológico de Abraham Lincoln, os quinhentos mil mortos da Guerra de Secessão, os três mil e trezentos milhões gastos em pensões militares, (…).
Nos princípios do século XIX (a data que nos interessa) as vastas plantações de algodão que havia nas margens eram cultivadas por negros, de sol a sol. Dormiam em barracas de madeira, sobre o piso de terra. Fora da relação mãe-filho, os parentescos eram convencionais e turvos. Tinham nomes, mas podiam prescindir dos apelidos. Não sabiam ler. A sua amolecida voz de falsete cantarolava um inglês de lentas vogais. Trabalhavam em filas, curvados sob o azorrague do capataz. Fugiam, e homens de fortes barbas saltavam sobre belos cavalos e cães próprios para caçar feras seguiam o seu rastro.
A um sedimento de esperanças irracionais e medos africanos tinham junto as palavras de Escritura: a sua fé, por conseguinte, era a de Cristo. Cantavam profundos e amontoados: Go down Moses. O Mississípi servia-lhes de magnífica imagem do sórdido Jordão.
Os proprietários dessa terra trabalhadora e desses bandos de negros eram ociosos e ávidos cavalheiros de cabeleira ao vento, que habitavam enormes casarões voltados para o rio – sempre com um pórtico pseudogrego de madeira de pinheiro-branco. Um bom escravo custava-lhes mil dólares e não durava muito. Alguns cometiam a ingratidão de adoecer e morrer. Havia que tirar desses bens instáveis o maior rendimento. Por isso os tinham nos campos desde que rompia o Sol até aos seus últimos raios; por isso exigiam das plantações uma colheita anual de algodão ou tabaco ou açúcar. A terra, fatigada e maltratada por essa cultura impaciente, ficava exausta em poucos anos: o deserto confuso e sujo de barro metia-se nas plantações. Nas chácaras abandonadas, nos subúrbios, nos exíguos canaviais e nos lodaçais abjectos, viviam os poor whites, a canalha branca. Eram pescadores, vagos caçadores, ladrões de cavalos. Aos negros costumavam mendigar pedaços de comida roubada e na sua degradação mantinham um orgulho: o do sangue sem fuligem, sem mistura. Lazarus Morell foi um deles.
Os cavalos roubados num estado e vendidos noutro foram somente uma digressão na carreira delinquente de Morell, mas representavam antecipadamente o método que agora lhe assegurava o seu bom lugar numa História Universal da Infâmia. Este método é único, não só pelas circunstâncias sui generis que o determinaram, mas pela abjecção que requere, pelo seu fatal manejo da esperança e pelo desenvolvimento gradual, semelhante à atroz evolução de um pesadelo. (…) Quanto ao número de homens, Morell chegou a comandar uns mil, todos ajuramentados. Duzentos formavam o Conselho Superior, que promulgava as ordens que os restantes oitocentos cumpriam. O risco recaía nos subalternos. No caso de rebelião, eram entregues à justiça ou arremessados ao rio volumoso de águas pesadas, com uma enorme pedra nos pés. Com frequência eram mulatos. A sua facinorosa missão era a seguinte:
Percorriam – com um momentâneo luxo de anéis, para inspirar respeito – as vastas plantações do Sul. Escolhiam um negro desgraçado e propunham-lhe a liberdade. Diziam-lhe que fugisse ao patrão, para ser vendido por eles uma segunda vez, numa plantação distante. Dar-lhes-iam então uma percentagem do preço da sua venda e ajudá-lo-iam para outra evasão. Conduzi-lo-iam depois a um estado livre. Dinheiro e liberdade, dólares ressoantes de prata com liberdade – que melhor tentação poderiam oferecer-lhe? O escravo atrevia-se à sua primeira fuga.
O caminho natural era o rio. Uma canoa, o porão de um vapor, uma lancha grande, uma enorme jangada como um céu com um abrigo na borda ou com altos toldos de lona; não importava o lugar, mas o saber-se em movimento e seguro sobre o rio infatigável… Vendiam-no em outra plantação. Ele fugia outra vez para os canaviais ou para os barrancos. Então os terríveis benfeitores (de quem começava já a desconfiar) alegavam gastos obscuros e declaravam que tinham que vendê-lo uma última vez. Quando regressasse, dar-lhe-iam a percentagem das vendas e a liberdade. O homem deixava-se vender, trabalhava algum tempo e desafiava na última fuga o risco dos cães próprios da caça às feras e os açoites. Regressava com sangue, com desespero e com sono.
Aleph, Jorge Luís Borges
Homero narrou essas coisas como quem fala com uma criança. Também me falou de sua velhice e da derradeira viagem que empreendeu, movido, como Ulisses, pelo propósito de chegar aos homens que não conhecem o mar, nem comem carne temperada com sal, nem suspeitam o que seja um remo. Viveu um século na Cidade dos Imortais.
Quando a derrubaram, aconselhou a fundação da outra. Isto não nos deve surpreender; disse que, depois de cantar a guerra de Ílion, cantou a guerra das rãs e dos ratos. Foi como um deus que criara o cosmos e em seguida o caos.
Ser imortal é insignificante; com exceção do homem, todas as criaturas o são, pois ignoram a morte; o divino, o terrível, o incompreensível é saber-se imortal. Tenho notado que, apesar das religiões, essa convicção é raríssima. Israelitas, cristãos e muçulmanos professam a imortalidade, mas a veneração que tributam ao primeiro século prova que só crêem nele, já que destinam todos os demais, em número infinito, a premiá-lo ou a castigá-lo. Mais razoável me parece a roda de certas religiões do Industão; nessa roda, que não tem princípio nem fim, cada vida é efeito da anterior e gera a seguinte, mas nenhuma determina o conjunto... Doutrinada num exercício de séculos, a república de homens imortais atingira a perfeição da tolerância e quase do desdém. Sabia que em um prazo infinito ocorrem a todo homem todas as coisas. Por suas passadas ou futuras virtudes, todo homem é credor de toda bondade, mas também de toda traição, por suas infâmias do passado ou do futuro. Assim como nos jogos de azar, os números pares e os números ímpares tendem ao equilíbrio, assim também se anulam e se corrigem o talento e a estupidez, e talvez o rústico poema de Cid seja o contrapeso exigido por um único epíteto das Éclogas ou por uma sentença de Heráclito. O pensamento mais fugaz obedece a um desenho invisível e pode coroar, ou inaugurar, uma forma secreta. Sei dos que praticavam o mal para que nos séculos futuros resultasse o bem, ou tivesse resultado nos já pretéritos... Encarados assim, todos os nossos atos são justos, mas também são indiferentes. Não há méritos morais ou intelectuais.
A morte (ou sua alusão) torna preciosos e patéticos os homens. Estes comovem por sua condição de fantasmas; cada ato que executam pode ser o último; não há rosto que não esteja por dissolver-se como o rosto de um sonho. Tudo, entre os mortais, tem o valor do irrecuperável e do inditoso. Entre os Imortais, ao contrário, cada ato (e cada pensamento) é o eco de outros que no passado o antecederam, sem princípio visível, ou o fiel presságio de outros que no futuro o repetirão até a vertigem. Não há coisa que não esteja como que perdida entre infatigáveis espelhos. Nada pode ocorrer uma só vez, nada é preciosamente precário. O elegíaco, o grave, o cerimonioso não vigoram para os Imortais. Homero e eu nos separamos nas portas de Tânger; creio que não nos dissemos adeus.
Benjamín Otálora conta, por volta de 1891, dezanove anos. É um rapagão de fronte pequena, de sinceros olhos claros, com o vigor dos bascos; uma punhalada feliz revelou-lhe que é homem valente; não o inquieta a morte do adversário, tampouco a imediata necessidade de fugir da República. O caudilho da paróquia dá-lhe uma carta para um tal Azevedo Bandeira, do Uruguai. Otálora embarca, a travessia é tormentosa e rangente; no outro dia, vagueia pelas ruas de Montevidéu, com inconfessada e talvez ignorada tristeza.
Não encontra Azevedo Bandeira; pela meia-noite, num armazém do Paso del Molino, assiste a uma discussão entre alguns tropeiros. Um punhal rebrilha; Otálora não sabe de que lado está a razão, mas o atrai o puro sabor do perigo, como a outros o baralho ou a música. Segura, no entrevem, uma punhalada baixa que um peão desfere contra um homem de chapéu escuro e de poncho. Este, depois, resulta ser Azevedo Bandeira. (Otálora, ao sabê-lo, rasga a carta, porque prefere dever tudo a si mesmo.) Azevedo Bandeira, embora robusto, dá a injustificável impressão de aleijado; em seu rosto, sempre demasiado próximo, estão o judeu, o negro e o índio; em sua afetação, o macaco e o tigre; a cicatriz que lhe atravessa a face é mais um adorno, bem como o negro bigode cerdoso.
O dormitório é desmantelado e escuro. Há uma sacada para o poente, há uma longa mesa com uma resplandecente desordem de chicotes, de relhos, de cintos, de armas de fogo e de armas brancas, há um remoto espelho de cristal embaçado. Bandeira está de boca para cima; sonha e se lamenta; uma veemência de sol último o define. O enorme leito branco parece diminuí-lo e obscurecê-lo; Otálora observa os cabelos brancos, a fadiga, a debilidade, as rugas dos anos. Revolta-o que esse velho os esteja mandando. Pensa que um golpe bastaria para dar conta dele. Nisso, vê no espelho que alguém entrou. É a mulher de cabelo ruivo; está meio vestida e descalça, e o observa com fria curiosidade. Bandeira recompõe-se; enquanto fala de coisas da campanha e bebe um mate atrás do outro, seus dedos brincam com as tranças da mulher. Por fim, dá licença a Otálora para ir embora.
Dias depois, chega-lhes a ordem de irem para o Norte. Param em uma estância perdida, situada em qualquer lugar da interminável planície. Nem árvores nem um arroio a alegram, o primeiro sol e o último a golpeiam. Há currais de pedra para o gado, que tem grandes chifres e está necessitado. El Suspiro é o nome desse pobre estabelecimento.
Arrasado o jardim, profanados os cálices e os altares, entraram a cavalo os hunos na biblioteca monástica e rasgaram os livros incompreensíveis e os injuriaram e queimaram, talvez temerosos de que as letras encobrissem blasfémias contra seu deus, que era uma cimitarra de ferro. Arderam palimpsestos e códices, mas no coração da fogueira, entre as cinzas, permaneceu quase intacto o livro duodécimo da Civitas Dei, que narra que Platão ensinou em Atenas e, no fim dos séculos, todas as coisas recuperarão seu estado anterior, e que ele, em Atenas, diante do mesmo auditório, de novo ensinará essa doutrina. O texto que as chamas perdoaram desfrutou de veneração especial e os que o leram e releram nessa remota província esqueceram que o autor só declarou tal doutrina para poder melhor refutá-la. Um século depois, Aureliano, coadjutor de Aquileia, soube que às margens do Danúbio a novíssima seita dos monótonos (chamados também anulares) professava que a história é um círculo e que nada é que não tenha sido e que não será. Nas montanhas, a Roda e a Serpente tinham deslocado a Cruz. Todos temiam, mas todos se confortavam com o boato de que João de Panonia, que se distinguira com um tratado sobre o sétimo atributo de Deus, ia impugnar tão abominável heresia.
Na candente manhã de fevereiro em que Beatriz Viterbo morreu, depois de uma imperiosa agonia que não cedeu um só instante nem ao sentimentalismo nem ao medo, observei que os painéis de ferro da praça Constitución tinham renovado não sei que anúncio de cigarros; o facto me desgostou, pois compreendi que o incessante e vasto universo já se afastava dela e que essa mudança era a primeira de uma série infinita.
Mudará o universo mas eu não, pensei com melancólica vaidade; sei que, alguma vez, minha vã devoção a exasperara; morta, eu podia consagrar-me a sua memória, sem esperança mas também sem humilhação. Considerei que em 3O de abril era seu aniversário; visitar, nesse dia, a casa da rua Garay para saudar seu pai e Carlos Argentino Daneri, seu primo-irmão, era um ato cortês, irrepreensível, talvez iniludível. De novo aguardaria no crepúsculo da abarrotada salinha, de novo estudaria as circunstâncias de seus muitos retratos. Beatriz Viterbo, de perfil, em cores; Beatriz, com máscara, no carnaval de 1921; a primeira comunhão de Beatriz; Beatriz, no dia de seu casamento com Roberto Alessandra; Beatriz, pouco depois do divórcio, num almoço do Clube Hípico; Beatriz, em Quilmes, com Delia San Marco Porcel e Carlos Argentino; Beatriz, com o pequinês dado por Villegas Haedo; Beatriz, de frente e em três quartos de perfil, sorrindo, com a mão no queixo... Não estaria obrigado, como outras vezes, a justificar minha presença com módicas oferendas de livros: livros cujas páginas, finalmente, aprendi a cortar, para não comprovar, meses depois, que estavam intactos.
Chego, agora, ao inefável centro de meu relato; começa aqui meu desespero de escritor. Toda linguagem é um alfabeto de símbolos cujo exercício pressupõe um passado que os interlocutores compartem; como transmitir aos outros o infinito Aleph, que minha temerosa memória mal e mal abarca? Os místicos, em análogo transe, são pródigos em emblemas: para significar a divindade, um persa fala de um pássaro que, de algum modo, é todos os pássaros; Alanus de Insulis, de uma esfera cujo centro está em todas as partes e a circunferência em nenhuma; Ezequiel, de um anjo de quatro faces que, ao mesmo tempo, se dirige ao Oriente e ao Ocidente, ao Norte e ao Sul. (Não em vão rememoro essas inconcebíveis analogias; alguma relação têm com o Aleph.) É possível que os deuses não me negassem o achado de uma imagem equivalente, mas este relato ficaria contaminado de literatura, de falsidade. Mesmo porque o problema central é insolúvel: a enumeração, sequer parcial, de um conjunto infinito. Nesse instante gigantesco, vi milhões de atos prazerosos ou atrozes; nenhum me assombrou tanto como o fato de que todos ocupassem o mesmo ponto, sem superposição e sem transparência. O que viram meus olhos foi simultâneo; o que transcreverei, sucessivo, pois a linguagem o é. Algo, entretanto, registrarei.
Na parte inferior do degrau, à direita, vi uma pequena esfera furta-cor, de quase intolerável fulgor. A princípio, julguei-a giratória; depois, compreendi que esse movimento era uma ilusão produzida pelos vertiginosos espetáculos que encerrava. O diâmetro do Aleph seria de dois ou três centímetros, mas o espaço cósmico estava aí, sem diminuição de tamanho. Cada coisa (o cristal do espelho, digamos) era infinitas coisas, porque eu a via claramente de todos os pontos do universo. Vi o populoso mar, vi a aurora e a tarde, vi as multidões da América, vi uma prateada teia de aranha no centro de uma negra pirâmide, vi um labirinto roto (era Londres), vi intermináveis olhos próximos perscrutando-me como num espelho, vi todos os espelhos do planeta e nenhum me refletiu, vi num pátio da rua Soler as mesmas lajotas que, há trinta anos, vi no vestíbulo de uma casa em Fray Bentos, vi cachos de uva, neve, tabaco, veios de metal, vapor de água, vi convexos desertos equatoriais e cada um de seus grãos de areia, vi em Inverness uma mulher que não esquecerei, vi a violenta cabeleira, o altivo corpo, vi um câncer no peito, vi um círculo de terra seca numa calçada onde antes existira uma árvore, vi uma chácara de Adrogué, um exemplar da primeira versão inglesa de Plínio, a de Philemon Holland, vi, ao mesmo tempo, cada letra de cada página (em pequeno, eu costumava maravilhar-me com o fato de que as letras de um livro fechado não se misturassem e se perdessem no decorrer da noite), vi a noite e o dia contemporâneo, vi um poente em Querétaro que parecia refletir a cor de uma rosa em Bengala, vi meu dormitório sem ninguém, vi num gabinete de Alkmaar um globo terrestre entre dois espelhos que o multiplicam indefinidamente, vi cavalos de crinas redemoinhadas numa praia do mar Cáspio, na aurora, vi a delicada ossatura de uma mão, vi os sobreviventes de uma batalha enviando cartões-postais, vi numa vitrina de Mirzapur um baralho espanhol, vi as sombras oblíquas de algumas samambaias no chão de uma estufa, vi tigres, êmbolos, bisões, marulhos e exércitos, vi todas as formigas que existem na terra, vi um astrolábio persa, vi numa gaveta da escrivaninha (e a letra me fez tremer) cartas obscenas, inacreditáveis, precisas, que Beatriz dirigira a Carlos Argentino, vi um adorado monumento em La Chacarita, vi a relíquia atroz do que deliciosamente fora Beatriz Viterbo, vi a circulação de meu escuro sangue, vi a engrenagem do amor e a modificação da morte, vi o Aleph, de todos os pontos, vi no Aleph a terra, e na terra outra vez o Aleph, e no Aleph a terra, vi meu rosto e minhas vísceras, vi teu rosto e senti vertigem e chorei, porque meus olhos haviam visto esse objeto secreto e conjetura) cujo nome usurpam os homens, mas que nenhum homem olhou: o inconcebível universo.
- Para saber mais:
https://deusmelivro.com/critica/historia-universal-da-infamia-jorge-luis-borges-15-4-2015/
Clique aqui para passar à Página Inicial da wiki 25 de Abril - 50 anos - Leituras em Liberdade